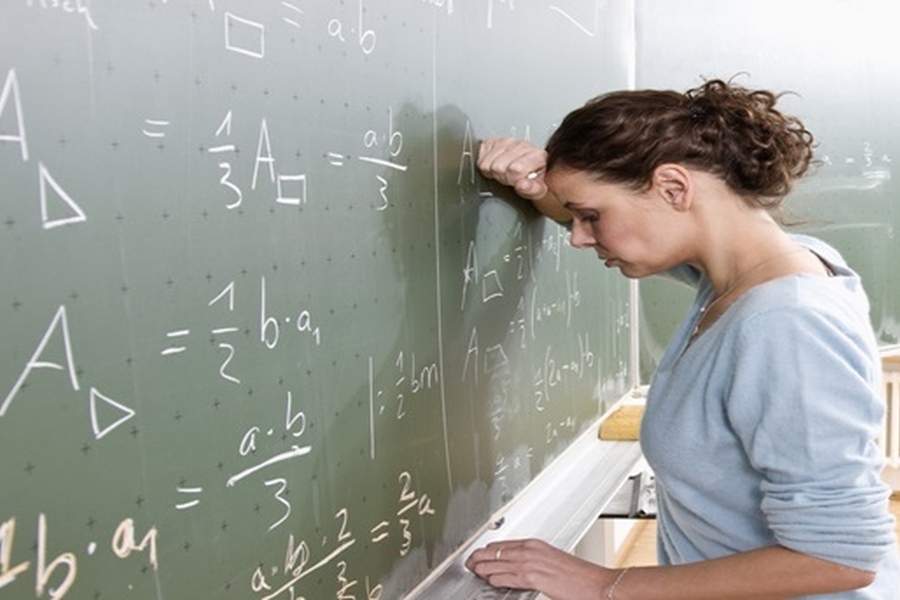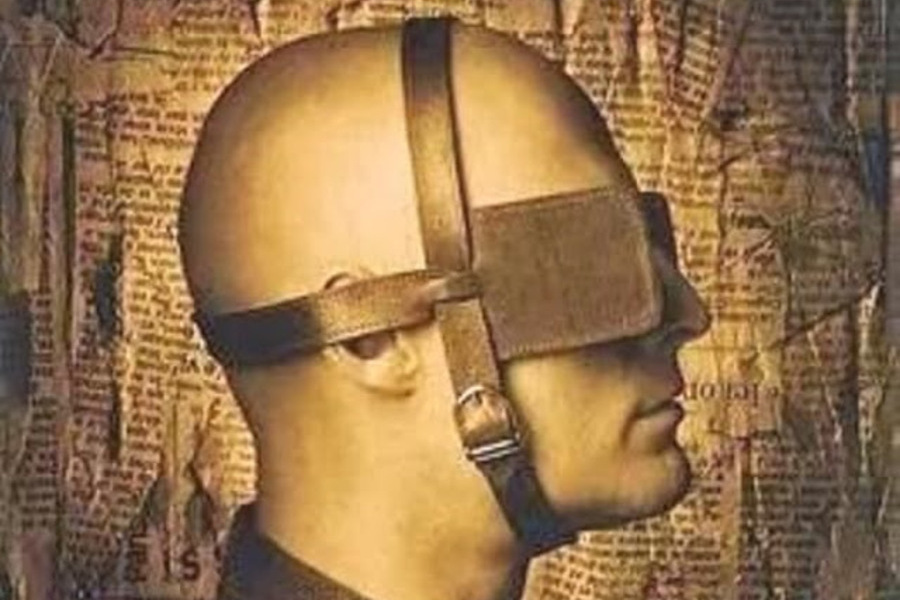Sempre que chegamos em abril vemos falas do tipo “o legado português nos fez assim”, “os indígenas se aprimoraram com os europeus” ou “a nossa semente foi plantada em 22 de abril de 1500”. Claro que estou tratando de datas como o dia dos povos indígenas (19 de abril) e a da chegada dos portugueses (22 de abril), enraizadas em nossos imaginários e trazendo à tona uma série de memórias conflituosas e convém falar da sua elaboração. Por muito tempo fomos ensinados a chamá-las respectivamente de Dia do Índio e Descobrimento, termos problemáticos desde a sua origem, pois excluem a existência de parte dos sujeitos que aqui viviam no século XVI, além de tratar atos de violência como heroísmo.
Outro ponto pertinente é o fato de que o território que chamamos hoje de Brasil é habitado a pelo menos dez mil anos por um leque muito amplo de povos e etnias. Dessa forma, não podemos reduzir a história desse pedaço de terra a meros 522 anos, pois silenciaríamos as múltiplas vivências construídas aqui desde a “pré-história”. Além do mais, focar-se no legado europeu para compreender o Brasil é algo racista, pois reduz uma série de processos extremamente complexos àquilo que experienciado pelos colonizadores. Tal enquadramento da memória advém de uma análise que coloca o homem branco heterossexual como o motor da história, deixando para escanteio aqueles (as) que destoavam do seu padrão, ou seja, mulheres, negros, indígenas e homossexuais, dentre outros sujeitos históricos.
Há que se lembrar também da maneira como os povos indígenas são representados nas comemorações de abril. Esses sujeitos são, muitas vezes, estudados de maneira genérica e como pessoas avessas aos espaços urbanos e à aceleração do tempo própria da industrialização. Vistos como povos “sem história”, reproduz-se todo ano a crença de que os indígenas do século XXI são um reflexo perfeito daqueles que encontraram os portugueses em 1500. Tal perspectiva dá margem a uma série de preconceitos que vão desde a ideia do gentio inocente até a do selvagem hostil. Como eu disse em uma coluna no ano passado, tal narrativa foi reforçada diversas vezes e ganha força em momentos de efeméride. Sendo assim, é comum que no ano do bicentenário do Grito do Ipiranga surjam reflexões em torno do passado brasileiro, o que leva ao desejo de análise dos povos que aqui viviam. Entretanto, é importante salientar que a nação foi construída no século XIX e que o território que temos hoje foi moldado a partir de interesses políticos no decorrer dos séculos. Assim, é urgente desconstruirmos pontos de vista como esses e passar a reconhecer a diversidade sociocultural aqui presente (demanda esta que não é apenas nossa, mas também de nossos vizinhos latino-americanos, os quais passaram por processos semelhantes de exploração e genocídio de suas populações originárias).
Após refletir tanto, fico com as perguntas: Por que exaltar o genocídio físico e cultural de tantos povos? Qual a necessidade de reforçar a chegada dos portugueses como a gênese e não um fato no meio de uma longa história? É claro que há um esforço hercúleo para revermos esses pontos de vista e muito desse trabalho vem de professores da educação básica e dos movimentos sociais. Devemos reconhecer esses sujeitos e ouvir suas pautas, a fim de lembrar que não se trata de mero revanchismo ou futilidade (como creem os reacionários), mas da reparação de uma série de opressões e violências (sejam elas físicas ou simbólicas). A partir disso, podemos começar a tratar essas reivindicações como algo essencial e compreender que o silenciamento delas é um tapa na cara de todos aqueles que foram mortos e de seus descendentes.